 Nos
últimos anos, o cinema do leste asiático vem destacando-se no cenário
internacional, figurando com prestígio em premiações e festivais como o
Oscar, Cannes e Berlim. Um dos principais fatores de tal popularidade
está na aproximação entre a estética e a forma dos filmes orientais com o
padrão cinematográfico ocidental, amplamente difundido pela
globalização. Ao mesmo tempo, a integração atual faz com que o conjunto
temático de tais obras se torne familiar, devido ao contato com a
cultura e realidade daqueles países. Dessa atual fase, podemos destacar a
produção coreana, japonesa e chinesa.
Nos
últimos anos, o cinema do leste asiático vem destacando-se no cenário
internacional, figurando com prestígio em premiações e festivais como o
Oscar, Cannes e Berlim. Um dos principais fatores de tal popularidade
está na aproximação entre a estética e a forma dos filmes orientais com o
padrão cinematográfico ocidental, amplamente difundido pela
globalização. Ao mesmo tempo, a integração atual faz com que o conjunto
temático de tais obras se torne familiar, devido ao contato com a
cultura e realidade daqueles países. Dessa atual fase, podemos destacar a
produção coreana, japonesa e chinesa.O Cinema Coreano
O regime totalitarista vigente desde a década de 60 na Coréia do Norte reprime, ainda hoje, a divulgação das produções cinematográficas do país. Entre 1990 e 2000, apenas quatro filmes aparecem listados no Internet Movie Database, nenhum deles com distribuição internacional. Já na década atual, o filme The Journal of a Schoolgirl (Jang In-hak, 2006) chegou a figurar em festivais franceses, porém ainda não possui nenhuma forma de lançamento estipulada. Até o momento, apenas cinco obras feitas após 2001 constam no IMDB.
Em contrapartida, o cinema sul-coreano vive nos últimos anos um período de intensa atividade e reconhecimento perante o público e a crítica. O início dessa fase remete à crise asiática de 1997, quando os estúdios multinacionais que dominavam o cenário interno abandonaram o país. O espaço deixado pela saída de tais empresas foi então ocupado por um grupo de novos diretores, que iniciou um processo de popularização do cinema nacional. O principal marco alcançado por essa geração foi em 2005, quando a Coréia do Sul figurou como um dos três países do mundo, ao lado de França e Índia, em que a produção interna foi mais assistida do que filmes estrangeiros.
Dentre os fatores responsáveis por esse sucesso, se destaca a aproximação temática com a realidade vivida no país. No fim da década 90, a separação das Coréias foi um tema primordial. Porém, os filmes desse período evitaram a exaltação política, típica das filmagens governistas dos anos 80, e centraram-se no caráter humano e em como as pessoas foram (e ainda são) afetadas pela divisão. Ocorreu, também, uma busca pelo sentimento de nacionalismo, e ecoou o crescente clamor pela reunificação. Shiri (Kang Je-gyu, 1999) foi o primeiro grande êxito de bilheteria a tratar do assunto.
Posteriormente, os trabalhos se voltaram também para a urbanização e suas conseqüências na interação social. Nesse momento, as cidades são apresentadas como verdadeiros labirintos que isolam as pessoas, afetando profundamente as relações familiares e fraternas. Como em OldBoy (Chan-wook Park, 2003) que apresenta, através de alegorias, os extremos do confinamento e do comportamento inumano decorrente do mesmo. Há também a quebra de valores tradicionais, que é representada principalmente por comédias que tratam do choque entre o secularizado e o novo, como My Sassy Girl (Kwak Jae-yong. 2001).
Independente da perspectiva adotada, as experiências dessa nova geração apresentam um fator em comum: a valorização do elemento humano. A preocupação central é com os sentimentos e conflitos psicológicos oriundos da transformação da sociedade, apontando semelhanças com as tendências francesas. E, de fato, vários cineastas envolvidos nessa retomada realizaram estudos na França.
Porém, a popularidade do cinema sul-coreano não se deve apenas às escolhas temáticas, mas também à forma e estética das produções. A nova geração de diretores evitou mimetizar ou ignorar as fórmulas cinematográficas americanas, optando por adaptá-las às características locais. Assim, ocorre a mistura entre narrativa e cenas de ação típicas de blockbusters, com longos períodos de silêncio, elementos de animação e composições abstratas.
Outro aspecto subvertido da cartilha hollywoodiana é a delimitação de gêneros, já que as obras apresentam em si elementos destoantes, o que dificilmente permitiria a sua classificação em uma única categoria. Por exemplo, Quiet Family (Kim Ji-woon, 1998) mistura comédia e terror na mesma película. Nowhere to Hide (Lee Myung-se, 1999) e Shiri realizam o mesmo com filmes de ação, adicionando respectivamente elementos de comédia e de melodrama. Mesmo exemplares com temática pesada apresentam seqüências que beiram o absurdo e a paródia, como OldBoy.
O J-HORROR
O cinema japonês começou seu desenvolvimento no século XIX, com películas que retratavam aventuras épicas e histórias de samurais injustiçados. Mas, devido às guerras, aos terremotos e à dominação norte-americana, os registros das produções nipônicas foram destruídos, levando décadas para que esse setor se refizesse dessas perdas.
Nos anos 80, o cinema do país ganhou grande impulso, tendo destaque dois gêneros: a animação e o terror. Esse último tem conquistado o gosto do público ocidental depois de remakes americanos de obras como O Chamado (Hideo Nakata, 1998), O Grito (Takashi Shimizu, 2000) e Água Negra (Hideo Nakata, 2002). Outras nações asiáticas também realizaram refilmagens semelhantes, como a Coréia do Sul, que criou a sua própria versão de O Chamado, intitulada The Ring Vírus (Dong-bin Kim, 1999).
Classificados de J-Horror, essas produções tiveram suas características incorporadas ao próprio gênero do terror asiático. Um de seus principais aspectos consiste em levar ao cinema temas sobrenaturais, abordados através de uma visão humanizada, dentro do cotidiano urbano, mesclando atitudes boas e ruins dos personagens. Diferenciam-se, assim, das películas de terror ocidentais, nas quais criaturas míticas representam a personificação do mal.
Outro ponto fundamental presente na maioria dos filmes é a crítica à sociedade ultra-conservadora japonesa, realizada de maneira indireta, por meio de metáforas. São tratados assuntos como suicídio de jovens e violência familiar, bem como situações em que o tradicionalismo e a ocidentalização da cultura entram em choque.
Os principais diretores do J-Horror são, além de Hideo Nakata e Takashi Shimizu, Takashi Miilke (O Teste Decisivo, 1999) e Hirayama Hideyuki (Escola Mal-Assombrada, 1995).
CHINA: Um Conflito de Gerações
É praticamente impossível analisar as experiências cinematográficas da China sob uma perspectiva que as distancie da cultura e da História do país, já que esses elementos estão intrinsecamente relacionados às temáticas abordadas. Também estão associados à própria definição do que é cinema chinês, termo que pode ser incorretamente utilizado para designar as produções de Hong Kong e de Tawain.
Devido a acontecimentos ocorridos durante a 1a Guerra e ao longo do governo de Mao Tsé-Tung, nenhuma dessas ilhas viveu décadas sob o regime socialista. Entretanto, o território continental é ainda hoje governado pelo Partido Comunista, que sujeita a nação a políticas rigorosas, estendidas aos meios de comunicação. Dessa forma, a expressão é regulamentada por órgãos de censura, como o Departamento Nacional de Cinema.
Em conseqüência de tal prática, dois setores podem ser identificados na China, desde os anos 90. São eles: o cinema oficial e o independente. Podemos dizer que, em geral, ambos têm como foco principal os acontecimentos históricos; entretanto, utilizam-se de estratégias radicalmente opostas para abordá-los.
O setor oficial é ocupado por cineastas pertencentes à “Quinta Geração”, dedicada principalmente à realização de filmes épicos, que fazem uma espécie de elegia aos fatos e modo de vida do passado. Embora não tenham o dever de enaltecer a ideologia comunista, os diretores são obrigados a preocupar-se em não entrar em conflito com o Partido. Assim, diversos efeitos especiais são usados para apresentar uma versão fantasiosa (e, portanto, distante) da realidade. Com alto grau de nostalgia, os filmes parecem intencionar a criação de um imaginário de como era a China. Para tanto, os componentes estéticos são bastante valorizados, destacando-se as cores vibrantes, a iluminação e os movimentos coreografados.
São filmes representativos dessa corrente: O Tigre e o Dragão (Ang Lee, 2000) e O Clã das Adagas Voadoras (Zhang Yimou, 2004). Foram justamente esses títulos que alcançaram certa popularidade no mundo ocidental, o que se deve à capacidade de entretenimento dessas películas. Destinadas a serem lucrativas, muitos as aproximam das produções dos norte-americanas, como declara o diretor Feng Xiaogang: “encontramos uma fórmula que funciona bem no mercado chinês. Próxima da de Hollywood, em parte, mas, sobretudo próxima dos chineses”.
A última parte da declaração de Feng refere-se à proximidade cultural que as produções da China possuem em relação aos habitantes do país. Afinal, muito mais que diretores americanos ou de qualquer outro lugar, os cineastas nativos compartilham o repertório nacional, ou seja, o campo de significação de seu público.
No entanto, as experiências de um novo grupo, denominado “Sexta Geração”, têm se destacado nos festivais internacionais. Elas podem ser definidas, sobretudo, pelo desejo de realismo e pela mistura documentário e ficção, construída através da apresentação panorâmica dos cenários (em geral compostos por espaços urbanos reais), do uso de câmera livre e de um ritmo narrativo pausado, reforçado por cenas em que predomina o silêncio e a imobilidade dos atores.
Contudo, apesar das premiações que têm conquistado, tais iniciativas são marcadas, no âmbito interno, por sua existência clandestina. Mantidas por um circuito de distribuição paralelo, seus autores sofrem diversas represálias, realizadas pelo Departamento.
Um dos porta-vozes do cinema independente chinês é Jia Zhang-ke, diretor de Plataforma (2000) e de O Mundo (2004). Seus trabalhos diferenciam-se da nostalgia presente na obras da “Quinta Geração”, ao abordarem temas atuais e do passado recente, retratando uma sociedade em transformação.
É interessante notar que as diferentes escolhas temáticas realizadas pela Quinta e pela Sexta Geração podem ser consideradas sintomáticas. Afinal, em um país em que a censura é corriqueira, parece mais fácil manter-se oficial apresentando o passado que a atualidade. Apesar de ser necessário reproduzir a visão propagada pelas elites – o que impede a humanização dos heróis e o questionamento das versões – abordar assuntos ocorridos há milênios é certamente menos delicado que discutir o presente.
FONTE: Tubo de Ensaio - Portal Laboratório






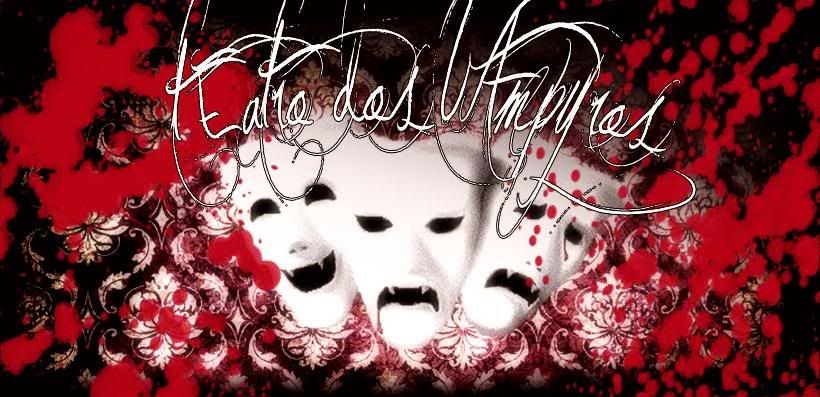


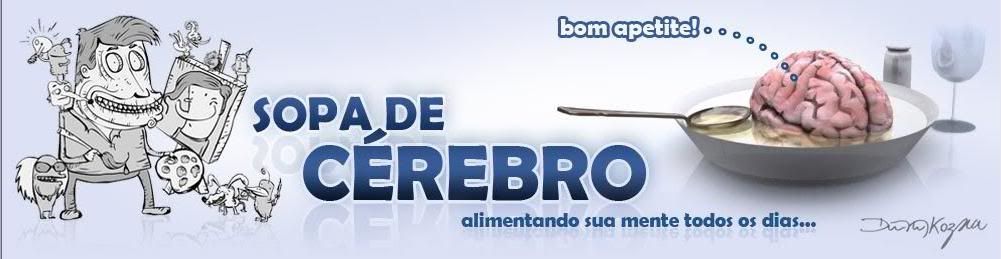



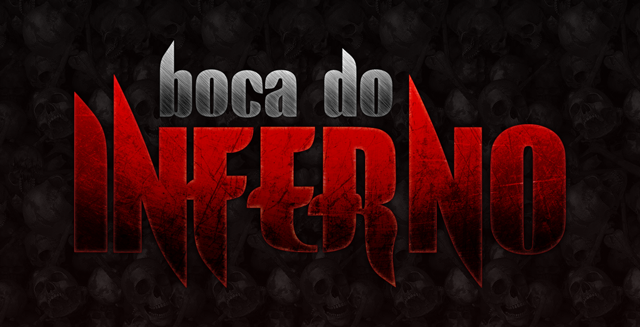


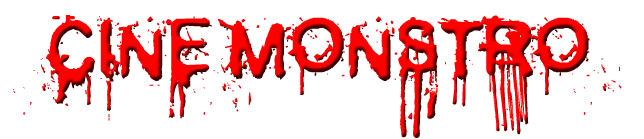
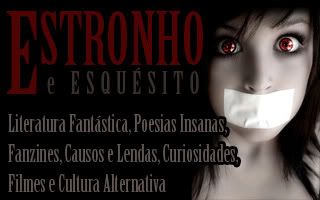

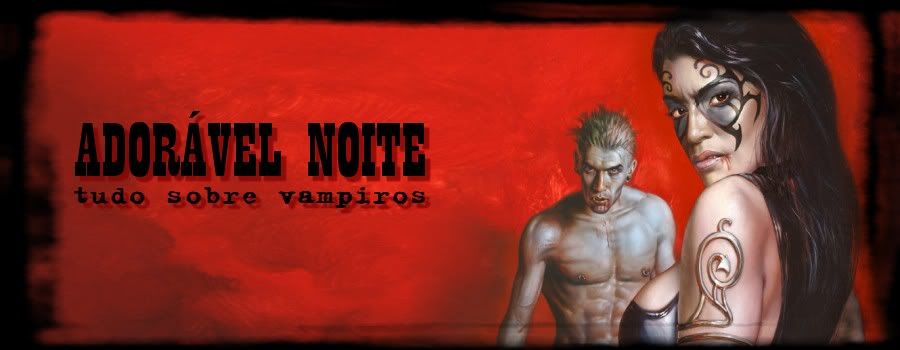

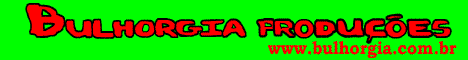


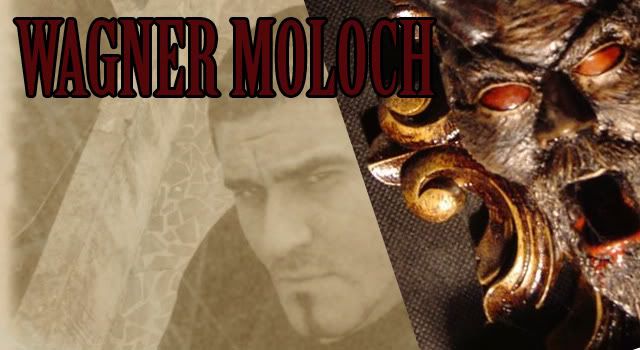






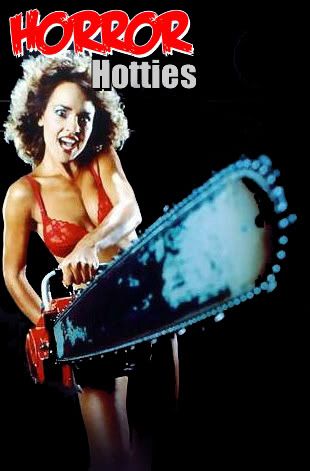
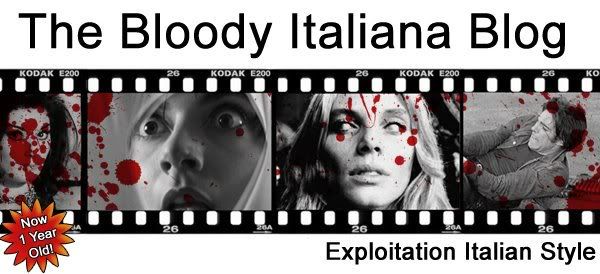


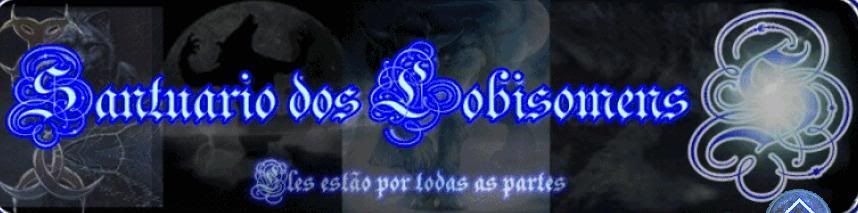


0 comentários: